O DURO DESAFIO DE AJUSTA
A POLÍTICA FISCAL BRASILEIRA

As mudanças na conjuntura internacional puseram fim à fase de crescimento fácil das economias emergentes exportadoras de commodities como o Brasil. A desaceleração chinesa esfriou o boom
das matérias-primas, e o início da redução da postura
superexpansionista da política monetária nos Estados Unidos elevou os
juros e reduziu a liquidez internacional. O financiamento dos déficits
em conta-corrente se tornou mais difícil e mais caro.
O Brasil foi pego no contrapé pela virada do cenário internacional, com
inflação no patamar de 6%, crescimento em torno de 2% e déficit externo
acima de 3,5% do PIB. A alta dos juros domésticos, combinada com o atual
ritmo de crescimento da economia, afetou negativamente a evolução da
dívida pública como proporção do PIB, especialmente quando se leva em
consideração o endividamento bruto. Nesse caso, há o agravante do custo
de carregamento das reservas internacionais acumuladas e dos empréstimos
do Tesouro ao BNDES e outros bancos públicos.
A retomada das dúvidas sobre a solvência brasileira – num contexto de
longo prazo e não alarmista, é bom ressalvar – piorou a percepção de
risco do país e colocou pressão em ativos como câmbio, juros e bolsa,
com reflexos negativos no investimento e na atividade econômica. O
governo sentiu o golpe, e vem dando passos para recuperar a
credibilidade da política econômica, optando pelo cardápio ortodoxo
tradicional.
Os juros básicos já foram aumentados em 3,5 pontos
porcentuais, e a equipe econômica comprometeu-se com um superávit
consolidado do setor público de 1,9% do PIB este ano, em princípio com
um volume bem inferior de receitas extraordinárias do que o ocorrido em
2013. O contingenciamento do Orçamento, de R$ 44 bilhões, foi bem
recebido pelo mercado.
De qualquer forma, o superávit primário necessário para estabilizar e
reduzir a dívida como proporção do PIB subiu no novo contexto
internacional e doméstico. Assim, a meta de primário de 1,9% em 2014,
idêntica ao resultado obtido em 2013, não é suficiente para dar
tranquilidade no que tange à solvência de longo prazo. Pelos cálculos do
IBRE, sob a ótica do equilíbrio fiscal, o superávit primário da União
deveria ficar na faixa de 2,5% do PIB por um longo período para
assegurar uma trajetória segura da dívida pública. E essa política
deveria ser acompanhada pela retração do financiamento do Tesouro aos
bancos públicos.
O problema, porém, é que a dinâmica de crescimento dos gastos da União
nos últimos anos indica claramente a dificuldade de se aumentar o
superávit primário pela contenção das despesas. As despesas primárias da
União cresceram 3,88 pontos percentuais (pp) do PIB entre 2003 e 2013,
de 15,14% para 19,02%. Uma parcela de 93% daquele incremento está ligada
diretamente a aposentadorias e transferências de programas sociais.
Mais precisamente, o aumento das despesas com o INSS no período foi de
1,93 pp do PIB, de 5,5% para 7,43%. Já o custeio de programas sociais
(Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, BPC,
seguro-desemprego e abono salarial) aumentou em 1,68 pp, de 0,59% para
2,27% do PIB.
Se forem incluídos na conta o custeio de saúde e educação e os gastos
com subsídios, boa parte dos quais com o programa Minha Casa Minha Vida,
chega-se a um aumento de despesa da União de 4,71 pp do PIB entre 2003 e
2013 que é quase todo de caráter social. Na verdade, essa expansão tão
acentuada das políticas de bem-estar social do Estado foi até
contrabalanceada pela redução de 0,26 pp do PIB dos gastos de pessoal
(incluindo Previdência do funcionalismo), de 4,47% para 4,22%, e de 0,44
pp do custeio administrativo, de 1,43% para 0,99%. Já o investimento
federal teve o tímido crescimento de 0,5% para 1,02% do PIB naquele
período, muito longe do desejável para uma economia emergente com
ambições de convergir para os padrões de renda do mundo avançado.
Como se vê, já se cortou bastante a gordura da máquina pública, e o
investimento se mantém em nível baixo. Assim, o ajuste em busca de um
superávit primário adequado ao atual cenário econômico terá
inevitavelmente de recair sobre gastos de natureza social, cujo
crescimento é visto como uma importante virtude do arranjo institucional
brasileiro.
Além das dificuldades políticas de se controlar a expansão de gastos
sociais demandada por nosso modelo democrático, há o problema de que boa
parte deles é indexada ao salário mínimo, como a maioria das
aposentadorias, o BPC, o seguro-desemprego e o abono salarial. O salário
mínimo, por sua vez, é ajustado pelo crescimento do PIB de dois anos
antes mais a inflação do INPC. A combinação dessa regra de ajuste com a
expansão do número de benefícios, tanto na Previdência quanto nos
diversos programas atrelados ao mínimo, condiciona uma tendência de
aumento do gasto como proporção do PIB em todas essas ramificações da
política social. O tamanho dessa ampliação não depende da postura fiscal
do governo naquele ano específico, mas sim do que tenha sido o PIB há
dois anos.
Mesmo programas desvinculados do mínimo, com o Bolsa Família,
sofrem de forma indireta a pressão daquela regra de reajuste. Afinal,
qual a justiça de sistematicamente reajustar os benefícios de idosos em
risco de pobreza acima daqueles dedicado a mães pobres com filhos para
criar?
Dessa forma, mesmo um governo determinado a fazer o ajuste fiscal, e
ciente de que terá de conter gastos sociais, pode ter enorme dificuldade
para realizar, de forma sustentável ao longo dos anos, um superávit
primário substancialmente maior. A não ser, claro, que esteja disposto a
reduzir os investimentos da União para níveis ínfimos. Como toda a
lógica de aumentar o primário é fortalecer os fundamentos
macroeconômicos do país, a ideia de contribuir para reduzir ainda mais a
magra taxa de investimentos provavelmente levará a um desempenho pior
do PIB – que é o denominador dos índices de solvência relevantes para os
investidores e as agências de classificação de risco.
Sempre existe, adicionalmente, a possibilidade de fazer o ajuste fiscal,
ou a maior parte dele, pelo aumento da carga tributária, e não pelo
lado da despesa. A carga tributária brasileira saiu de 25,2% do PIB em
1991 para 35,9% em 2012. Em 1991, a carga nacional era 8,1 pontos
percentuais superior à média latino-americana (Brasil exclusive) e 11,8
pontos percentuais inferior à média dos países da OCDE. Em 2012, ela era
16,7 pontos percentuais acima da latino-americana, e já superava
ligeiramente a média da OCDE.
Esse enorme aumento da carga tributária nacional, na verdade, não foi
mais do que a forma que o país encontrou de financiar a explosão de
gastos públicos causada pela Constituição de 1988 e pelas demandas
distributivas de nosso modelo institucional no período
pós-redemocratização.
Ainda que a elevação de impostos seja a resposta habitual do Brasil às
pressões fiscais nas últimas décadas, essa alternativa está longe de ser
a ideal para os dias de hoje. Na verdade, a alta carga tributária
brasileira e a forma complexa e distorcida pela qual ela incide sobre a
atividade econômica são apontadas como relevantes fatores de limitação
ao crescimento do PIB nacional.
Mesmo com seu possível efeito negativo sobre o crescimento de longo
prazo, o aumento da carga tributária sempre é uma ferramenta disponível
para um ajuste fiscal mais drástico, e é uma hipótese que não deve ser
descartada (como previsão, não como recomendação) quando se pensa a
economia política no Brasil.
Ainda assim, o ajuste da política fiscal para o novo e mais difícil
cenário doméstico e internacional será um grande e penoso desafio
político-econômico para a presidente ou o presidente que tomará posse em
janeiro de 2015.
Parece inescapável que, diante da rígida dinâmica de aumento dos gastos
públicos, e levando em consideração que o aumento da carga tributária é
uma solução bem mais precária, pelos seus efeitos danosos ao crescimento
econômico, o próximo governo deverá recolocar na mesa alguns temas de
reforma estrutural. A ideia deveria ser a de introduzir mais
“eficiência” na máquina pública, apertando o foco dos programas sociais –
em outras palavras, fazer com que os recursos cheguem a quem, de fato,
deles precisa, como ocorre no Bolsa Família.
Nessa ótica, os candidatos naturais a sofrerem revisões seriam programas
como pensões por morte, seguro-desemprego, abono salarial e
auxílio-doença. Na verdade, é bem duvidoso que se obtenham rapidamente
economias substanciais para o Estado com a revisão desses programas. Nos
primeiros anos, a contribuição não levará as contas públicas ao
resultado fiscal necessário, já que a redução de gastos com mudanças em
programas desse tipo, ligados a benefícios e direitos sociais,
tipicamente ocorre, em boa parte deles, de forma muito gradual.
Mas uma
ação decidida do governo numa agenda como essa provavelmente trará
importante ganho de credibilidade para a política econômica. Com um
horizonte fiscal de longo prazo mais assegurado, aumentos da dívida
pública no curto e médio levantarão menores preocupações quanto à
solvência do país.
Toda essa discussão, evidentemente, refere-se apenas ao equilíbrio
fiscal e à segurança da trajetória do endividamento público, que são um
problema conjuntural importante do Brasil na atualidade. Para além desse
debate, há a incontornável questão da aceleração do aumento da
produtividade, imprescindível para que o Brasil alcance um ritmo de
crescimento compatível no médio e longo prazo com as justas ambições de
progresso social da sociedade.
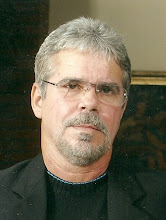















Nenhum comentário :
Postar um comentário