CELSO PITTA E O
DESTINO DO LULISMO
Em 1997, um tecnocrata de perfil
apagado, fala meio truncada e expressão assustadiça foi conduzido ao
comando da Prefeitura de São Paulo pelas mãos de seu padrinho. Paulo
Maluf havia encerrado seu mandato com aprovação recorde, e anunciava com
espalhafato o orgulho de ter passado as chaves da maior cidade
brasileira a um negro.
Economista com passagem por Harvard, Celso Pitta havia feito carreira
discreta à sombra do malufismo (primeiro nas empresas da família, depois
como secretário de Finanças de São Paulo) e jamais imaginou que pudesse
chegar tão longe. Maluf repetia a todos o que disse ter falado ao
próprio: “Você tem tudo para se tornar o Nelson Mandela brasileiro.” Sob
o escárnio da retórica patriarcal e triunfante, o que estava em jogo
era a permanência de um esquema de poder (os petistas gostam de falar
“projeto”) na prefeitura para dar suporte material às ambições políticas
do padrinho (àquela altura Maluf sonhava intensamente com a Presidência
da República). O esquema, como se sabe, desmoronou.
Sem dinheiro, com a prefeitura atolada em dívidas em razão da gastança
desenfreada que haviam patrocinado no período anterior, padrinho e
afilhado logo se desentenderam, até romper relações. O futuro Mandela
passou a ser chantageado pela vereança malufista – boa parte da qual
afundada, ela própria, na corrupção (o caso da Máfia dos Fiscais é dessa
época). Pitta atravessou seu governo como um sonâmbulo, vagando entre
escândalos. Teve contra si quatro pedidos de impeachment, todos
arquivados, e chegou a ser apeado do cargo por algumas semanas, até
recobrar na Justiça o direito de voltar à cadeira para se arrastar até o
final do mandato. Tragado pela máquina que o engendrou, ele passou de
herdeiro a coveiro do malufismo. Paulo Maluf, desde então, nunca mais se
elegeu a um cargo do Poder Executivo. E Pitta foi esquecido em vida,
muito antes de morrer, em 2009. Passemos a 2015.
A popularidade de Dilma
Rousseff atingiu o volume morto. A presidente também parece uma
sonâmbula no cargo. O início de seu segundo mandato é digno de Celso
Pitta. Seria injusto, no entanto, compará-la sem mais ao pupilo de
Maluf. Não pesa sobre Dilma, até o momento, nenhuma denúncia de
corrupção. Pitta acumulou várias ao longo da vida. No caso da
presidente, os malfeitos, para usar um jargão que é dela, ocorreram à
sua volta, sem que ela soubesse. Assim foi com a acusação de tráfico de
influência praticado por sua secretária-executiva, Erenice Guerra,
dentro do Palácio do Planalto, quando era ministra da Casa Civil; assim
foi com o prejuízo de 800 milhões de dólares na compra da refinaria de
Pasadena pela Petrobras, quando ela presidia o Conselho de Administração
da empresa.
Guardadas as enormes diferenças entre os personagens, a herança de
Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil, parece, como no caso de
Pitta, pesada demais. Refém da arca fisiológica que Lula lhe legou, ela,
a despeito de todas as concessões, perdeu o controle sobre sua base
parlamentar – hoje não se sabe mais quem está e quem não está com o
governo. Arrolados como suspeitos no escândalo do Petrolão, os
presidentes da Câmara e do Senado decidiram dobrar sua aposta contra a
presidente: nunca, desde o impeachment de Collor, o Executivo foi
confrontado, derrotado e desmoralizado pelo Legislativo como agora.
Se a defesa é o melhor ataque, como se diz na gíria esportiva, também é
verdade que o tombo é proporcional à altura. Tanto Eduardo Cunha como
Renan Calheiros sabem disso muito bem. O cálculo, no caso deles, parece
ser outro: quem cai antes? Ou quem tem mais condições de empurrar quem
para o buraco?
Todos os governos precisam dos
serviços do PMDB. Mas ninguém o leva a sério desde... a morte de Ulysses
Guimarães, se quisermos fixar uma data de outra era geológica. De lá
para cá, o PMDB se tornou isso: o maior conglomerado de bucaneiros do
espectro partidário, um imenso parasita do Estado, que usa seu tamanho
para vender governabilidade no atacado e faturar no varejo da política.
O deputado Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco e voz
dissonante no partido, certa vez declarou que o PMDB se especializou
“nessas coisas pelas quais os governos são denunciados: manipulação de
licitações, contratações dirigidas, corrupção em geral”. Isso foi em
2009. O leitor julgue se a sentença está com o prazo de validade
vencido.
O fato é que, apesar de ser o que é, o PMDB conquistou ares de
respeitabilidade desde que a crise começou. Calheiros se sentiu à
vontade para dar lições de moral e boa governança a Dilma. Proclamou ser
chegada a hora do programa “Menos Ministérios” – “no máximo vinte” dos
39 atuais (só não explicou quantos deles para o próprio PMDB) –, e foi
além: “menos cargos comissionados, menos desperdício e menos
aparelhamento do Estado”. Um artista. Quem, a essa altura, vai ser
contra a lembrança de que o bom exemplo começa em casa? O governo não
tem argumentos.
Mas quem caiu nas graças de certa
imprensa no curso da crise foi Eduardo Cunha. É o presidente da Câmara, e
não o PSDB, quem dá hoje o tom da oposição ao governo no Congresso. É
ele quem encarna e galvaniza dentro do sistema político o sentimento
antipetista.
Cunha é uma espécie de genérico de Carlos Lacerda. Faz um tremendo
sucesso num momento em que tudo na vida do país parece ser de segunda
mão. Com ele, diante das incertezas políticas do quadro atual, o PMDB
vislumbra a possibilidade de aglutinar em torno de si algo parecido com
um projeto. Não mais o projeto nacional-desenvolvimentista, ao qual um
dia sua imagem foi associada, mas um arremedo de projeto
liberal-conservador, em sintonia com os ventos que sopram das ruas, que
fale tanto à população evangélica, particularmente sensível à pauta dos
costumes, como à massa crescente de insatisfeitos, para quem o Estado é
um estorvo e pagar imposto equivale a alimentar a máquina do
assistencialismo petista. Eduardo Cunha é um reacionário militante e
ruidoso (“Aborto, nem que a vaca tussa”, disse recentemente), um quadro
em ascensão da direita ideológica. É claro que a Lava Jato pode abatê-lo
em pleno voo.
A vitória de Cunha deu vazão a um ressentimento generalizado em relação
ao PT no Legislativo. Pelas expressões de satisfação e euforia da arraia
miúda a cada pequena derrota que o Congresso impinge ao governo, tem-se
a nítida sensação de que só esperam pelo momento do apito para pular de
vez do barco. Nas ruas, por sua vez, o desrecalque assumiu contornos de
ódio: “Malditos”, dizia um cartaz na avenida Paulista; “Filhos Dilma
PuTa”, acusava outro; “Ei, Dilma, vai tomar no cu!” ou “Lula,
cachaceiro, devolve meu dinheiro!” tornaram-se gritos de guerra
recorrentes e triviais, entoados em fúria cívica por grupos vestidos de
verde e amarelo nos vagões do metrô, sob o vão do Masp, na companhia das
crianças.
No dia 15 de março, quando o
Tucanistão desceu de seus apartamentos para ocupar a avenida, a crise
galgou alguns degraus e mudou de patamar. O que se viu na Paulista foi a
maior mobilização de rua desde a campanha pelas Diretas e a primeira
manifestação de massa de direita no Brasil em cinquenta anos. Que
ninguém se iluda: ali algo começou a tomar forma.
Não significa, obviamente, como notou o cientista político Cláudio Couto no Estado de S. Paulo,
que todos os manifestantes fossem de direita. A força do que aconteceu
está exatamente nisso: “A direita capitaneou uma mobilização que a
ultrapassa.”
A certa altura, um dos carros de som que estavam na avenida puxou um
Pai-Nosso. Parte da multidão entrou na reza. “Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos do mal – e do comunismo!”, berrou o
locutor, antes de emendar com um “amém” eufórico, daqueles de festa do
peão em Barretos. Instantes depois, insuflados pelos organizadores,
manifestantes passaram a cantar uma versão de Para Não Dizer que Não Falei das Flores,
o clássico de Vandré. Na paródia, o refrão “Vem, vamos embora, que
esperar não é saber/Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” se
transformou em “Dilma, vai embora, que o Brasil não quer você/E leva o
Lula junto, e os vagabundos do PT”.
Emulando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, às vésperas do
golpe de 1964, ou escarnecendo do hino da esquerda contra a ditadura em
1968, às vésperas do AI-5, os manifestantes tomavam posse simbólica das
ruas: a direita voltou – este é o recado do morro.
Em 2013, comentando no calor da hora
as manifestações de junho que haviam virado o país de pernas para o ar, o
crítico Roberto Schwarz manifestou da seguinte forma a sua surpresa:
“Foi tudo muito rápido. Em duas semanas, o Brasil que diziam que havia
dado certo, que derrubou a inflação, que incluiu os excluídos, que está
acabando com a pobreza extrema, que é um exemplo internacional – este
Brasil foi substituído por outro país muito pior, em que o transporte
popular, a educação e a saúde são um desastre, em que a classe política é
uma vergonha, sem falar na corrupção. Qual das duas versões estará
certa? É claro que todos esses defeitos já existiam antes, mas eles não
pareciam o principal; e é claro que aqueles méritos do Brasil novo
continuam a existir agora, mas parece que já não dão a tônica.”
O diagnóstico feito em cima do laço captava com precisão as contradições
daquele momento. Mas de lá para cá a situação só se deteriorou. A
inflação voltou a nos assombrar; a imagem internacional do país se
desmanchou (e só não está completamente arruinada porque a condução da
economia foi entregue nas mãos de um liberal fisgado do sistema
financeiro); a corrupção mudou de escala, explodiu a ponto de
transformar a soberba de Delúbio Soares numa profecia que, enfim, se
realizou: o mensalão virou piada de salão; por fim, as conquistas
sociais da última década estão mais do que nunca ameaçadas. É muito
provável que em poucos meses, talvez antes, tenhamos uma péssima
surpresa quando alguém aferir o que sobrou, ou a que foi reduzida a
classe C. O que está em xeque – no momento em que a corrupção atinge os
píncaros e a promessa de um país melhor, mais decente e socialmente
justo, embica para baixo – é, para falar sem eufemismos, a versão
petista do “rouba, mas faz”. O “rouba, mas distribui” parece ter entrado
em colapso.
A aproximação entre Lula e Maluf é sempre chocante. Não são nem nunca
foram pessoas iguais. Mas já foram mais diferentes, e antípodas durante
muito tempo. Quem tornou a comparação possível não foi Maluf, que pouco
mudou desde a ditadura, mas Lula, talvez o maior líder popular que o
país já conheceu, no momento em que aceitou se associar e patrocinar a
sobrevida do que há de pior na política brasileira, tudo em nome... em
nome de quê, afinal?
Há um aspecto, no entanto, em que Lula e Maluf se confundem. Tanto Pitta
quanto Dilma são quase caprichos de seus criadores. A despeito da
distância entre eles, o prefeito negro e a presidenta chegaram lá para
perpetuar ou afirmar o poder do chefe. A conquista das minorias
historicamente subjugadas vem carimbada, em ambos os casos, com o selo
do paternalismo, de forma que o gesto de emancipação anunciado pelo
marketing não passa, na verdade, de uma maneira de reiterar o
conservadorismo arraigado no país. Dilma mereceria sorte melhor, mas
teria que nascer de novo para se livrar a essa altura da tutela do
padrinho. É provável que passe à história como coveira do lulismo.
Fonte: Revista Piauí
Por Fernando de Barros e Silva

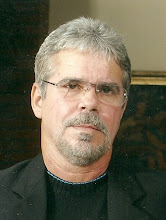

















































Nenhum comentário :
Postar um comentário