POR QUE O BRASIL NÃO DESLANCHA?
Na economia globalizada, sob o império do capitalismo
monopolizado e o reino do sistema financeiro, condicionada por acordos
tarifários e comerciais e o protecionismo imposto pelos grandes mercados
consumidores, além da guerra entre blocos, a indústria nacional precisa de estratégia, desenvolvimento de produto, logística e gestão da produção --além de tecnologia de fabricação.
É a conditio sine qua non para um mínimo de competitividade, mesmo no mercado interno. Mas, no Brasil, o desenvolvimento cientifico
e tecnológico é relegado a segundo plano pelas chamadas elites,
especialmente as empresariais, com impacto nas políticas governamentais,
descontínuas, à mingua de estratégia.
Assim, quando o desafio da economia do desenvolvimento é dominar a tecnologia de ponta nos setores industriais,
quando os insumos principais deixam de ser bens físicos e cedem lugar
ao trabalho intelectual, ao conhecimento, quando a mão-de-obra barata e
farta deixa de ser fator decisivo na composição do preço, a
produtividade, de que decorrem os ganhos de mercado, torna-se o
resultado da equação tecnologia-mão de obra qualificada (leia-se
conhecimento).
É bastante conhecer as transformações que se operam, por exemplo, na produção industrial da China e da Índia. A polaridade subdesenvolvimento versus desenvolvimento cede espaço à disjuntiva dominante versus dominado, a saber, mundo produtor de tecnologia versus mundo dependente de tecnologia (os novos subdesenvolvidos).
A economia e a política hegemônicas são a economia e a política
ditadas pelos países altamente industrializados, distinguidos pelo
conteúdo tecnológico de seus produtos, e a tecnologia cada vez mais se
torna estratégica e decisiva tanto para a economia quanto para as
políticas de poder que determinam a geopolítica e as estratégias de
blocos e guerras, imperialismo, dominação e tudo o mais.
É assustador que o Brasil, um dos maiores territórios do mundo com
população de 200 milhões de habitantes, participe com apenas 1,4% da
produção mundial científica em engenharia. A Coreia do Sul, devastada
pela guerra nos anos 50 e hoje com população que é um quarto da nossa,
responde por 4,5% desse mesmo total; nas áreas de engenharia elétrica e
eletrônica e em engenharia mecânica, a produção coreana é quatro vezes
maior que a do Brasil.
Não há milagres, nem o atraso é determinismo. Simplesmente não há
desenvolvimento sem aumento da produtividade, que, hoje mais do que
nunca, depende da produção e aplicação do conhecimento. Nessa sociedade a
inovação é sistêmica, contínua, correndo mesmo à frente das demandas de
mercado, o que requer estoque de conhecimento e capital. Quanto
mais o mundo se globaliza, mais se tornam importantes os mercados
consumidor e produtor nacionais como demonstram os exemplos
contemporâneos dos EUA e da China.
O Brasil dispõe de quase tudo o que requer o desenvolvimento
econômico e a soberania – território, mercado consumidor em expansão,
recursos naturais, população, e estabilidade institucional. Por que a
coisa não funciona? A industrialização cobra de seus agentes alta
tecnologia/inovação que, por seu turno, depende de uso intensivo de
capital e de recursos humanos qualificados. E investimentos em pesquisa,
de que o empresariado nacional se afasta como o diabo da cruz.
Aqui, contrariando a trajetória dos países que deram certo, nosso
desenvolvimento científico e tecnológico está restrito às universidades
públicas e nelas aos cursos de pós-graduação, que produzem milhares de
dissertações e teses, mas tem pouquíssimas patentes depositadas no
exterior. Entre as 20 maiores instituições depositárias de patentes,
cinco são universidades públicas.
Os pesquisadores que atuam em pesquisa e desenvolvimento estão nas universidades. Por quê?
Porque a empresa brasileira não os absorve, porque não investe nem em
pesquisa científica nem em inovação, em contraste com o mundo
desenvolvido, onde cabe ao setor produtivo privado a fixação de
pesquisadores no setor industrial. Essa, a primeira distorção. A
segunda, dela derivada, é o fato de a pesquisa, no Brasil, desviada para
a vida acadêmica, descolar-se de qualquer projeto de desenvolvimento
nacional estratégico.
Enquanto exportamos minério de ferro para importar trilhos da China,
chegamos, em 2006, a publicar 35 mil dissertações e 10 mil teses, mas
sem qualquer correspondência no registro de patentes. Nosso investimento
em CTI em relação ao PIB é de três a cinco vezes menor do o de qualquer
país à nossa frente. Há estreita relação entre os investimentos
empresariais e o volume de patentes registradas, e esse fato não temos
como superar.
A comunidade universitária desenvolve suas pesquisas com ênfase na
produção acadêmica, quase sempre dirigida pela linha das revistas
científicas internacionais. A Academia produz a partir de seu foco, pois
não conhece as prioridades nacionais. E as temos? São poucos os
cientistas e pesquisadores brasileiros trabalhando em empresas.
Nos EUA, 80% dos pesquisadores estão em empresas e só 15% em
instituições de ensino. Na Coréia e no Japão, 75% estão no setor
privado. Na Alemanha, 75% dos cientistas trabalham nas indústrias, 18%
nas universidades e 10% no governo. No Brasil, o percentual de
cientistas e engenheiros trabalhando diretamente nas indústrias é de
apenas 10%.
A universidade, assim, se vê na contingência de formar o cientista e
ter de recebê-lo de volta, para a atividade docente, porque o mercado
privado não o absorve. Essa distorção teria evidente correspondência na
formação de nossos profissionais. O caso das engenharias é exemplarmente
lamentável. O Japão possui 17 engenheiros para cada 100 mil habitantes,
os EUA 9,5 e a China 13,8.
Temos apenas 2,8 engenheiros para cada 100 mil brasileiros. Em
2011 formamos 45 mil engenheiros, a Coréia, 80 mil, com seus 49 milhões
de habitantes. No mesmo período, 60% dos engenheiros americanos com
doutorado trabalhavam em empresas; aqui, 2%.
O Brasil possui somente 60 mil cientistas, um para cada três mil
habitantes, 20% do que carece. Já os EUA apresentam um milhão de
cientistas, um para cada 300 habitantes, ocupando o 42% lugar no ranking de uso de tecnologias.
Talvez tudo isso explique o fato de 40% das exportações brasileiras serem commodities primárias
de baixo ou nenhum valor agregado, e só 18% produtos de média e alta
intensidade tecnológica, contra 46% da China. Nosso quadro é o inverso
dos desenvolvidos.
Não pode ser grande a expectativa de reversão do quadro, pois a crise
econômica estimula o antipioneirismo e o rentismo de nossos
empresários, que preferem pagar royalties a investir em pesquisa. De outra parte a clamorosa e crônica crise do ensino, em todos os
graus, e a destruição da escola pública de segundo grau: temos escolas
do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI,
espantados.
O PISA mensura o desempenho em leitura, matemática e ciências de
estudantes de 15 anos em todo o mundo; em 2009, o Brasil ficou em 57º
lugar!
O País avançou na democratização da universidade e abriu o acesso a
milhões de jovens. Não obstante o crescimento das matrículas das escolas
públicas nos dois governos Lula, o fato é que apenas 15% do alunado
superior estuda, hoje, em universidades públicas. Na Grande São Paulo, o
ensino privado chega a absorver 93% do alunado universitário, 56% dos
quais são cotistas. Ocorre, e eis a tragédia, que o ensino universitário
privado é, no geral, de baixa qualidade, pouco investe em cursos
técnicos e não investe em pesquisa.
A universidade brasileira, como um todo, não conhece a cultura da
inovação. Se conhecimento gera conhecimento, a ignorância nada gera; se
tecnologia gera tecnologia, sua ausência é o atraso.
Fonte: CartaCapital
Por Roberto Amaral

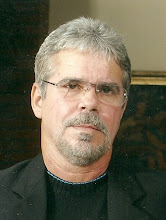

















































Um comentário :
Vamos acabar com essa elite política deste país, que tanto nos atrasa e mingua nossa qualidade de vida social.
Diga não à reeleição para depurar esse Sistema Eleitoral e acabar de vez com as dinastias e políticos carreiristas.
https://www.youtube.com/watch?v=yBUiYV0Bl8o
Gilmar H
“Nada aceitar por verdadeiro a não ser que se imponha a mim como evidente.” (Descartes)
Postar um comentário