O NOBEL DA ECONOMIA
Observando os economistas
honrados com o Prêmio Nobel nos últimos quatro anos, temos a impressão
de que alguma coisa se move em Estocolmo. Infelizmente, a lista dos
premiados de 1969 a 2016 não revela alguém que tenha, de fato,
contribuído para melhorar o bem-estar da humanidade, como é o caso dos
agraciados com o Nobel de Física, Química e Medicina.
Estamos diante de um clamoroso fracasso da ciência
“macroeconômica”, revelado não apenas na sua incapacidade de antecipar a
maior crise econômica desde 1929, mas porque, pela teoria, ela não
poderia ocorrer...
De 2009 até 2016, entretanto, dos 15
premiados, nove, pelo menos, são “microeconomistas” que avançaram em
novas soluções nos problemas de alocação de bens em mercados eticamente
sensíveis e na harmonização de conflitos, como é o caso da chamada
“teoria dos contratos”.
Os prêmios nesse período parecem
reconhecer, implicitamente, o desencanto com a macroeconomia e aceitar
que os avanços do conhecimento econômico eficaz, capaz de gerar maior
eficiência produtiva e aumentar a harmonia entre os membros da
sociedade, inclusive na relação público-privada, reside na
microeconomia. É o caso dos trabalhos de Jean Tirole, prêmio de 2014, e de Bengt Holmström e Olivier Hart, o de 2016.
Essencialmente, trata-se de desenvolver instrumentos que
facilitem a cooperação entre pessoas que têm interesses não
necessariamente alinhados e garantam que os benefícios e os riscos dela
decorrentes sejam distribuídos de uma forma sentida como “justa”, sem
que haja coerção física ou institucional.
Temos, aqui, uma certa equiparação de poder entre as
partes, apoiada num “contrato” garantido pelo Estado. Como o
comportamento dos participantes é condicionado pelos “incentivos” que
recebem, constrói-se uma relação (um “contrato”) entre um indivíduo ou
uma organização (a que se dá o nome de “principal”) e um outro indivíduo
ou uma organização (a que se dá o nome de “agente”), pela qual o
“agente”, no seu próprio interesse, tem vantagem em obedecê-la, mesmo
quando não vigiado diretamente pelo “principal”.
Deve ser claro que tal “contrato” transcende aos aspectos
puramente econômicos da relação entre o “principal” e o “agente” que lhe
deu origem: é um instrumento que, mediado pelas instituições que dão
materialidade ao Estado, equilibra a relação de poder entre eles.
A teoria dos contratos, em
parte criada pelos ganhadores no Nobel, é muito útil para explicar como
melhorar as relações entre acionistas e administradores; como controlar
a remuneração extravagante de “geniais” CEOs;
como aumentar o valor das empresas com “fusões”; como avaliar os
efeitos de transferência de atividades do Estado para o setor privado;
como criar consórcios intermunicipais; como entender as eventuais
vantagens da verticalização ou terceirização das empresas etc.
No Brasil de hoje, talvez a sua maior utilidade seja a
de chamar a atenção para o nosso “contrato de trabalho”, de clara
inspiração corporativista como então era moda, incluindo na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), outorgada por Getúlio Vargas em 1943.
Ela prestou excelente serviço civilizatório, mas, depois de 70 anos, carece de um aggiornamento
em benefício da liberdade e do aumento da produtividade do trabalho,
que, por definição, é sinônimo de desenvolvimento econômico.
Na última semana, por coincidência, dois magníficos artigos no Estadão,
um publicado pelo competente economista, professor José Márcio Camargo
(“Contratos falsos”, 9 de outubro) e outro pelo reconhecido jurista Ney
Prado (“Disfuncionalidade do modelo trabalhista”, 12 de outubro),
analisam o problema. Expõem as contradições internas de uma regulação
que pretende proteger o trabalhador, porque ele é um hipossuficiente
incapaz de entender onde está o seu interesse e o empresário é um
contraventor “enrustido”, o que exige a mediação externa do juízo
trabalhista.
O problema que se coloca na negociação direta é como
buscar a “paridade de poder” exigida na teoria dos contratos, incentivo à
criação de um autêntico sindicalismo. Ao contrário do que temos hoje,
ele deve passar longe da unicidade e do financiamento obrigatório que – a
história revela – são instrumentos que induzem à manipulação política
dos trabalhadores nos estados corporativos, como em 1934...
Fonte: CartaCapital
Por Delfim Netto

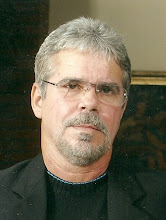

















































Nenhum comentário :
Postar um comentário